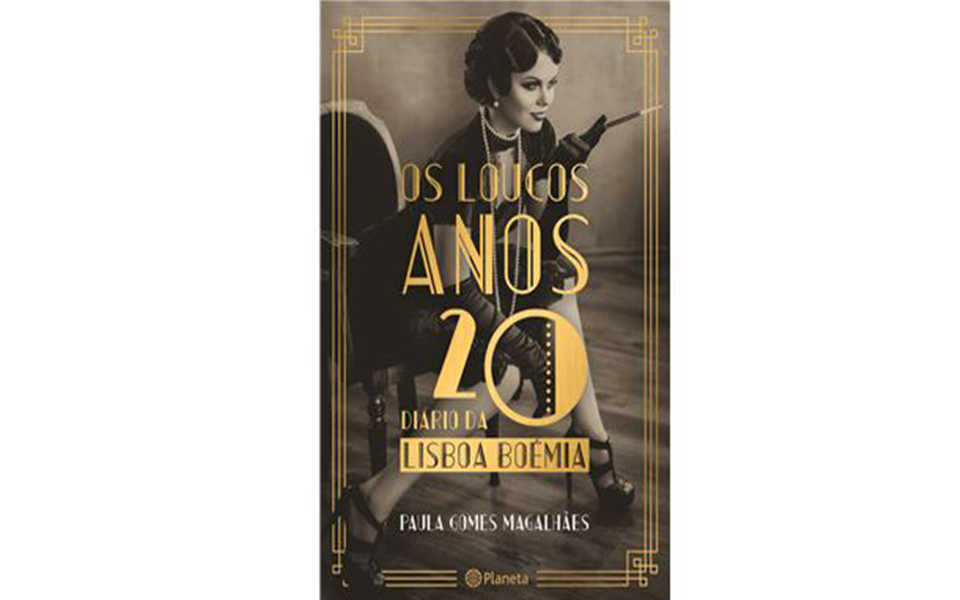Quando Wall Street colapsou, em 1929, acabaram-se os “roaring twenties” ou os “années folles”, como lhes chamaram os franceses. Foi uma década em que se saravam as feridas da sangrenta Primeira Guerra Mundial, onde se morria dentro de abafadas trincheiras. E onde se expiaram os dias da gripe espanhola, que parecia querer ceifar o que restava da vida que não perecera entre 1914 e 1918. A libertação foi alimentada pelo crescimento económico do pós-guerra e pelas mudanças tecnológicas, artísticas e sociais que este trouxe. Da aviação à rádio, do sufrágio universal ao jazz, dos automóveis como meio de transporte popular à Art Deco, tudo surgiu como numa erupção sem fim. O mundo, apesar do que escreveria Scott Fitzgerald, deixara de ser uma “geração perdida”: deixava-se perder na noite, na quebra de regras, na busca de limites. Nascia o “cidadão médio” e o conceito de ascensão social. O modelo eram os Estados Unidos, a terra de todas as oportunidades.
John dos Passos, escritor que era neto de um imigrante português, escrevia em “Manhattan Transfer”: “A Europa está podre, cheira mal. Na América pode-se subir. Os nascimentos não têm importância. A educação não tem importância. O que importa é subir”. Todos sabiam que não viveriam para sempre. E por isso os “loucos anos” eram para viver até ao limite. Louise Brooks era o símbolo da nova mulher, e a este lado do paraíso, isto é Portugal, chegavam as novidades. E, num meio restrito, viveram-se esses anos loucos, que António Ferro (mais tarde o ideólogo da “política do espírito” do Estado Novo) desenhou nos seus belos livros. Isto enquanto a Primeira República ia definhando, entre tentativas de golpe de Estado e crises económicas e corrupção.
É de tudo isto que se faz um livro que é uma viagem perfeita a essa década infame: “Os loucos anos 20, Diário da Lisboa Boémia” de Paula Gomes Magalhães. É uma aventura vertiginosa pela cultura e sociedade dessa década, antes que o nosso Wall Street político, o 28 de Maio de 1926, começasse a encerrar a euforia. Mostra, sobretudo, que em Portugal há constantemente “dois países” (o de uma elite, e outro o da maioria). Como escreve a autora: “A instabilidade social e política não impediu que o país - Lisboa em particular - se desenvolvesse à imagem das grandes metrópoles europeias. Nos centros urbanos, mas principalmente na capital, os avanços tecnlógicos e civilizacionais e as excitantes novidades de lazer e diversão impuseram o ritmo (...) esta obra acompanha o quotidiano frívolo da Lisboa boémia, do smart-set de que fala Virgínia Vitorino”. E assim é: é um retrato, muito bem documentado e com bastantes ilustrações extremamente valiosas para se entender melhor este período (basta olhar para as magníficas capas da revista “ABC” feitas por esse ilustrador às vezes injustamente esquecido que foi Stuart Carvalhaes).
Há momentos extremamente aliciantes como aquele em que a autora nos recorda que em 1928, no meio da desorientação criada pelo aumento do tráfego automóvel, foi necessário definir regras, como passar a ser obrigatório circular pela direita (uma capa do “Sempre Fixe” é deliciosa, como uma crítica à conjuntura política). Depois há a moda (a busca da silhueta perfeita pelas mulheres citadinas e modernas), as delícias da noite, o clássico chá das cinco ou o teatro e a revista. Diversos recantos que nos ajudam a compreender a sociedade desses anos. São páginas aparentemente de nostalgia mas que, um século depois, nos mostram como a sociedade portuguesa era, tentando despertar dos seus demónios e saudades eternas. Não o conseguindo, é claro.
Os delirantes anos 20
/
Quando Wall Street colapsou, em 1929, acabaram-se os “roaring twenties” ou os “années folles”, como lhes chamaram os franceses. Foi uma década em que se saravam as feridas da sangrenta Primeira Guerra Mundial, onde se morria dentro de abafadas trincheiras.